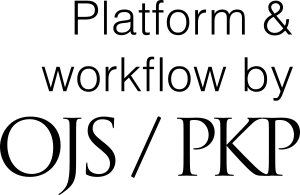Back to the Original Family: Risk and Protective Factors in the Reunification Process of the Family of an Institutionalized Adolescent
DOI:
https://doi.org/10.7322/jhgd.19855Keywords:
Family reunification, Institutionalization, AdolescenceAbstract
The aim of this study was to investigate risk and protective factors in the family reunification process of a 12-year-old adolescent who had been under protective shelter for six months due to a suspicion of sexual abuse from her stepfather and, after the period of six months, returned to her original family. The data were collected through interviews with the adolescent, her mother, some of the shelter's employees, a social assistant working in a NGO, the Guardianship Council and the school's teacher. The methodology of ecological insertion was followed in this case for five months. The results showed expressive and numerous risk factors in the family, resulting in the adolescent's return to the shelter. It was concluded that the ecological transition process that the adolescent experienced, from the shelter to her home, happened in an inappropriate way, since the conditions for a healthy development in the family context had not been guaranteed. Thus, the study discusses the need for public policies that ensure that these transitions will be monitored, so that the reunification of these families can happen safely and definitively.References
Estatuto da criança e do adolescente. Diário Oficial da União. Lei nº 8069. Brasília (DF); 1990.
Brito R, Koller SH. Desenvolvimento humano e redes de apoio social e afetivo. In: Carvalho A, editor. O mundo social da criança: Natureza e cultura em ação. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1999. p. 115-29.
Morais N, Koller SH. Abordagem ecológica do desenvolvimento humano, psicologia positiva e resiliência: Ênfase na saúde. In: Koller SH, editor. Ecologia do desenvolvimento humano: Pesquisa e intervenções no Brasil. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2004. p. 91-107.
Reppold C, Pacheco J, Bardagi M, Hutz CS. Prevenção de problemas de comportamento e desenvolvimento de competências psicossociais em crianças e adolescentes: Uma análise das práticas educativas e dos estilos parentais. In: CS Hutz, editor. Situações de risco e vulnerabilidade na infância e na adolescência: Aspectos teóricos e estratégias de intervenção. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2002. p.7-51.
Rutter M. Psychosocial resilience and protective mechanisms. Am J Orthopsychiatric.1987; 57(3): 316-31.
Jessor R, Van Den Boss J, Vanderryn J, Costa F, Turbin M. Protective factors in adolescent problem behavior: Moderator effects and developmental change. Develop Psychol. 1995;31(X): 923-33.
De Antoni C. Coesão e hierarquia em famílias com história de abuso físico. Tese (Doutorado em Psicologia do Desenvolvimento) – Instituto de Psicologia/UFRGS, Porto Alegre, 2005.
Masten A, Garmezy N. Risk, vulnerability and protective in developmental psychopathology. In: Lahey B, Kazdin A, editors. Advances in clinical child psychology. New York: Plenum Press; 1985.p.1-52.
Seifer R, Sameroff A, Baldwin C, Baldwin A. Child and family factors that ameliorate risk between 4 and 13 years of age. J Am Acad Adolesc Psychiatry. 1992; 31(5):893-903.
Caminha R. A violência e seus danos à criança e ao adolescente. In: Amencar, editor. Violência Doméstica. Brasília: UNICEF; 2000. p.43-60.
Dixon L, Browne K, Hamilton-Giachritsis C. Risk factors of abused as children: A mediation alanalysis of the intergenerational continuity of child maltreatment (Part I). J Child Psychol Psychiat. 2005; 46(1): 47-57.
Dixon L, Hamilton-Giachritsis C, Browne K. Attributions and behaviours of parents abused as children: A mediational analysis of the intergenerational continuity of child maltreatment (Part II). J Child Psychol Psychiat.2005; 46(1): 58-68.
Newcomb M, Locke T. Intergenerational cycle of maltreatment: A popular concept obscured by methodological limitations. Child Abuse Negl. 2001;25(9): 1219-1240.
Black D, Heyman R, Slep A. Risk factors for child physical abuse. Aggress Violent Behav. 2001; 6(2-3): 121-188.
Reppold C, Pacheco J, Hutz CS. Comportamento agressivo e práticas disciplinares parentais. In: Hutz CS, editor. Violência e risco na infância e adolescência: Pesquisa e intervenção. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2005. p.9-42.
Siqueira AC, Dell’Aglio DD. O impacto da institucionalização na infância e na adolescência: Uma revisão de literatura. Psicol Soc. 2006; 18(1): 71-80.
Yunes MA, Miranda AT, Cuello SS. Um olhar ecológico para os riscos e as oportunidades de desenvolvimento de crianças e adolescentes institucionalizados. In: Koller SH, editor. Ecologia do desenvolvimento humano: Pesquisa e intervenções no Brasil. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2004. p. 197-218.
Carvalho A. Crianças institucionalizadas e desenvolvimento: Possibilidades e desafios. In: Lordelo E, Carvalho A, Koller SH, editors. Infância brasileira e contextos de desenvolvimento São Paulo: Casa do Psicólogo; 2002. p. 19-44.
Arpini D. Repensando a perspectiva institucional e a intervenção em abrigos para crianças e adolescentes. Psicol Ciênc Prof.2003;21(3):70-75.
Dell’Aglio DD. O processo de coping, institucionalização e eventos de vida em crianças e adolescentes. Tese (Doutorado em Psicologia do Desenvolvimento) – Instituto de Psicologia/UFRGS, Porto Alegre, 2000.
Martins E, Szymanski H. Brincando de casinha: Significado de família para crianças institucionalizadas. Estud Psicol (Natal). 2004;9(1): 177-87.
Pasian S, Jacquemin A. O auto-retrato de crianças institucionalizadas. Paidéia. 1999;9(17): 50-60.
Siqueira AC, Betts MK, Dell’Aglio DD. Redes de apoio social e afetivo de adolescentes institucionalizados. Interam J Psychol. 2006;40(2):149-58.
Bronfenbrenner U. Making human beings human: Biecological perspectives on human development. London: Sage; 2004.
Bronfenbrenner U, Morris P. The ecology of developmental processes. In: Damon W, editor. Handbook of child psychology. New York: John Wiley & Sons; 1998. p. 993-1027.
Santana JP. Instituições de atendimento acrianças e adolescentes em situação de rua: objetivos atribuídos por seus dirigentes e pelos jovens atendidos. Dissertação (Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento) – Instituto de Psicologia/UFRGS, Porto Alegre, 2003.
Bronfenbrenner U. A ecologia do desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artes Médicas; 1996.
Silva ER. O direito à convivência familiar e comunitária: Os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. Brasília: IPEA/CONANDA; 2004.
Maluccio A, Abramczyk L, Thomlison B. Family reunification of children in out-of-home care: Research perspectives. Child Youth Serv Rev. 1996; 18(4-5):287-305.
Courtney M, Wong Y. Comparing the timing of exits from substitute care. Child Youth Serv Rev. 1996; 18(4-5): 307-334.
Eamon M, Kopels S. “For reasons of poverty”: Court challenges to child welfare practices and mandated programs. Child Youth Serv Rev.2004; 26(9): 821-836.
Davis I, Landsverk J, Newton R, Ganger W. Parental visiting and foster care reunification. Child Youth Serv Rev. 1996; 18(4-5): 363-382.
Festinger T. Going home and returning to foster care. Child Youth Serv Rev. 1996; 18(4-5): 383-402.
Yin RK. Estudo de caso: Planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman; 2005.
Cecconello A, Koller SH. Inserção ecológica na comunidade: uma proposta metodológica para o estudo de famílias em situação de risco. Psicol. Refl. Crít. 2003;16(3):515-524.
Landy S, Munro S. Shared parenting: Assessing the success of a foster parent program aimed at family reunification. Child Abuse Negl. 1998; 22(4): 305-318.
Araújo M. Violência e abuso sexual na família. Psicol Estud. 2002; 7(2): 3-11.
Leifer M, Shapiro J, Kassen L. The impact of maternal history and behavior upon foster placement and adjustment in sexually abused girls. Child Abuse Negl. 1993; 17(6): 755-766.
Wills T, Blechman E, McNamara G. Family support, coping and competence. In: Hetherington M, Blechman E, editors. Stress, coping and resiliency in children and families. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 1996. p.107-33.
Juliano M. A influência da ecologia dos ambientes de atendimento no desenvolvimento de crianças e adolescentes abrigados. Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) – Instituto de Educação/FURG. Rio Grande, 2005.
Lindstrom B. O significado da resiliência. Adolescência Latino-americana. 2001; 2(2): 133-137.
Dalbem J. Características da representação do apego em adolescentes institucionalizadas e processos de resiliência na construção de novas relações afetivas. Dissertação (Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento) –Instituto de Psicologia/UFRGS, Porto Alegre, 2005.
Downloads
Published
Issue
Section
License
CODE OF CONDUCT FOR JOURNAL PUBLISHERS
Publishers who are Committee on Publication Ethics members and who support COPE membership for journal editors should:
- Follow this code, and encourage the editors they work with to follow the COPE Code of Conduct for Journal Edi- tors (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf)
- Ensure the editors and journals they work with are aware of what their membership of COPE provides and en- tails
- Provide reasonable practical support to editors so that they can follow the COPE Code of Conduct for Journal Editors (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf_)
Publishers should:
- Define the relationship between publisher, editor and other parties in a contract
- Respect privacy (for example, for research participants, for authors, for peer reviewers)
- Protect intellectual property and copyright
- Foster editorial independence
Publishers should work with journal editors to:
- Set journal policies appropriately and aim to meet those policies, particularly with respect to:
– Editorial independence
– Research ethics, including confidentiality, consent, and the special requirements for human and animal research
– Authorship
– Transparency and integrity (for example, conflicts of interest, research funding, reporting standards
– Peer review and the role of the editorial team beyond that of the journal editor
– Appeals and complaints
- Communicate journal policies (for example, to authors, readers, peer reviewers)
- Review journal policies periodically, particularly with respect to new recommendations from the COPE
- Code of Conduct for Editors and the COPE Best Practice Guidelines
- Maintain the integrity of the academic record
- Assist the parties (for example, institutions, grant funders, governing bodies) responsible for the investigation of suspected research and publication misconduct and, where possible, facilitate in the resolution of these cases
- Publish corrections, clarifications, and retractions
- Publish content on a timely basis