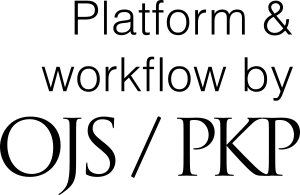A militarização dos presídios brasileiros
DOI :
https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2020.156940Mots-clés :
Prisões, Funcionários prisionais, Policiais militares, Militarização, BrasilRésumé
Ce travail traite de la présence d'officiers de police militaire dans les prisons brésiliennes, de leur répartition dans les unités fédératives et des principales caractéristiques des établissements où elles opèrent. Outre la revue bibliographique, la méthodologie comprenait des statistiques descriptives et une analyse de régression, ainsi que des informations provenant de l'Enquête nationale sur l'information des pénitenciers. Il a été vérifié que ces professionnels travaillent dans 23% des prisons et dans 18 États. Parmi les caractéristiques des prisons liées à cette représentation figurent la diversité du personnel et la présence exclusive de prisonniers temporaires, de sexe masculin et en régime fermé. Il a été conclu que l'attribution de la police militaire était associée à la préférence des gouvernements des États de les désigner pour la surveillance des murs et des portes et / ou pour la gestion et le contrôle interne des prisons.##plugins.themes.default.displayStats.downloads##
Références
Bauman, Zygmunt. (1999), Globalização: as consequências humanas. São Paulo, Jorge Zahar, pp. 111-136.
Brasil. (1984), Lei Federal n. 7.210, de 11 de junho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Brasília.
Brasil. (2003), Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crime e dá outras providências. Brasília.
Brasil. (2006), Lei Federal n. 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas […]. Brasília.
Brasil. (2014), Lei Federal n. 12993, de 17 de junho de 2014. Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para conceder porte de arma funcional. Brasília.
Brasil. (2016), Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen). Base de dados 2016. Brasília, Ministério da Segurança Pública. Disponível em http://depen.gov.br/depen/depen/sisdepen/infopen/bases-de-dados/bases-de-dados, consultado em 31/10/2018.
Brasil. (2017), Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen). Relatório Sintético [referente às informações de 2016]. Brasília, Ministério da Segurança Pública.
Brasil. (2019), Emenda Constitucional n. 104. Altera o inciso xiv do caput do art. 21, o §4º do art. 32 e o art. 144 da Constituição Federal, para criar as polícias penais federal, estaduais e distrital. Brasília: Congresso Nacional.
Chies, Luiz A. Bogo (coord.); Barros, Ana Luísa X.; Lopes, Carmem L. A. da S. & Oliveira, Sinara F. (2001), A prisionalização do agente penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem pena. Pelotas, Educat.
Clemmer, Donald. (1940), The prison community. Nova York: Rinehart & Co.
Coelho, Edmundo Campos. (1987), A oficina do diabo: crise e conflito no Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.
Coelho, Edmundo Campos. (2005), A oficina do diabo e outros estudos sobre a criminalidade. Rio de Janeiro, Record.
Ferreira, Sandra A. & Sousa, Bárbara R. de. (2015), “O sentido do trabalho na representação social de agentes penitenciários do sistema prisional tocantinense”. Trabalho apresentado no vi Cipsi – Congresso Internacional de Psicologia da uem. Maringá/pr, Universidade Estadual de Maringá, 19 a 22 de maio.
Foucault, Michel. ([1975] 1986), Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes.
Garland, David. (2008), A cultura do controle: crime e ordem na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro, Instituto Carioca de Criminologia/Revan.
Goffman, Erving. (1974), Manicômios, prisões e conventos. São Paulo, Perspectiva.
Jaskowiak, Caroline & Fontana, Rosane T. (2015), “O trabalho no cárcere: reflexões acerca da saúde do agente penitenciário”. Revista Brasileira de Enfermagem-Reben, Brasília, 68 (2): 235-243.
Lemgruber, Julita. (1983), Cemitério dos vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres. Rio de Janeiro, Forense.
Lopes, Rosalice. (2002), “Psicologia jurídica, o cotidiano da violência: o trabalho do agente de segurança penitenciária nas instituições prisionais”. Psicologia para América Latina. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2002000100004&lng=pt&nrm=iso.
Lopes, Rosalice. (1998), Atualidades do discurso disciplinar: a representação da disciplina e do disciplinar na fala dos agentes de segurança penitenciária. São Paulo, dissertação de mestrado, ppg Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo.
Lourenço, Luiz Claudio. (2010), “Batendo a tranca: impactos do encarceramento em agentes penitenciários da Região Metropolitana de Belo Horizonte”. Dilemas, 3 (10): 11-31.
Lourenço, Luiz Claudio & Alvarez, Marcos César. (2017), “Estudos sobre prisão: um balanço do estado da arte nas ciências sociais nos últimos vinte anos no Brasil (1997-2017)”. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais – bib, 84 (2): 216-236.
Monteiro, L. (2013), A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um estudo sobre agentes penitenciários em Salvador, ba. Salvador, dissertação de mestrado em Ciências Sociais, Universidade Federal da Bahia.
Moraes, Pedro Rodolfo Bodê de. (2013), “A identidade e o papel de agentes penitenciários”. Tempo Social – Revista de Sociologia da usp, 25 (1): 131-147. Disponível em https://doi.org/10.1590/S0103-20702013000100007.
Moraes, Pedro Rodolfo Bodê de. (2005), Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes penitenciários. São Paulo, ibccrim.
Ramalho, José Ricardo. (1979), O mundo do crime: a ordem pelo avesso. São Paulo, Graal.
Reis, M. P. (2012), Entre o poder e a dor: representações sociais da corrupção e da violência no sistema penitenciário de São Paulo. Brasília, tese de doutorado em Sociologia, Universidade de Brasília.
Rudnicki, Dani. (1999), “Prisão, Direito Penal e respeito pelos direitos humanos”. In: Tavares Dos Santos, José Vicente (org.). Violência em tempo de globalização. São Paulo, Hucitec, pp. 544-570.
Sabaini, Raphael T. (2012), Uma cidade entre presídios: ser agente penitenciário em Itirapina-sp. São Paulo, dissertação de mestrado em antropologia social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Sabaini, Raphael T. (2009), “Agentes penitenciários de Itirapina, sp: identidade e hierarquia”. Ponto Urbe [online]: Revista do Núcleo de Antropologia Urbana da usp, 5: 1-13.
Salla, Fernando A. (2017), “Vigiar e punir e os estudos prisionais no Brasil”. Dilemas, 2: 29-43. Disponível em https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/14201.
Santos, José R. R. (2007), O fenômeno da prisionização em agentes penitenciários do estado do Paraná. Curitiba/pr, monografia, Curso de Pós-graduação em Gestão penitenciária, Universidade Federal do Paraná.
Sarmento, V. A. (2014), Análise do curso preparatório para agentes de segurança penitenciária femininas e sua relação com a formação em Direitos Humanos. João Pessoa, dissertação de mestrado em Direitos Humanos, Universidade Federal da Paraíba.
Silveira, Joslei T. (2009), “‘Se tirar o colete não dá pra saber quem é preso, quem é agente’: trabalho, identidade e prisionização”. Anais do i Seminário Nacional Sociologia e Política, Curitiba, Universidade Federal do Paraná.
Siqueira, I. B. L. (2016), “Aqui ninguém fala, escuta ou vê”: relatos sobre o cotidiano profissional dos agentes de segurança penitenciária em Manaus. Manaus, dissertação de mestrado em Sociologia, Universidade do Amazonas.
Thompson, Augusto. (1980), A questão penitenciária. Rio de Janeiro, Forense.
Universidade de São Paulo, Núcleo de Estudos da Violência, Comissão Teotônio Vilela. (1995), “ii – Prisões no Brasil”. In: Os Direitos Humanos no Brasil. São Paulo, usp, pp. 125-126.
Wacquant, Loic. (2001), “Do Estado-Providência ao Estado-Penitência: realidades norte-americanas, possibilidades europeias”. In: Wacquant, Loic. As prisões da miséria. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, pp. 77-151.
World Prison Brief. (2016), Disponível em http://www.prisonstudies.org, consultado em 2/1/2019.
Zaffaroni, Eugenio Raúl. (1991), “La filosofía del sistema penitenciario en el mundo contemporâneo”. In: Beloff, Mary Ana; Bovino, Alberto & Courtis, Christian. (orgs.). Cuadernos de la Cárcel. Buenos Aires, [s.ed.], pp. 36-62.
Téléchargements
Publiée
Numéro
Rubrique
Licence
(c) Copyright Tempo Social 2020

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.